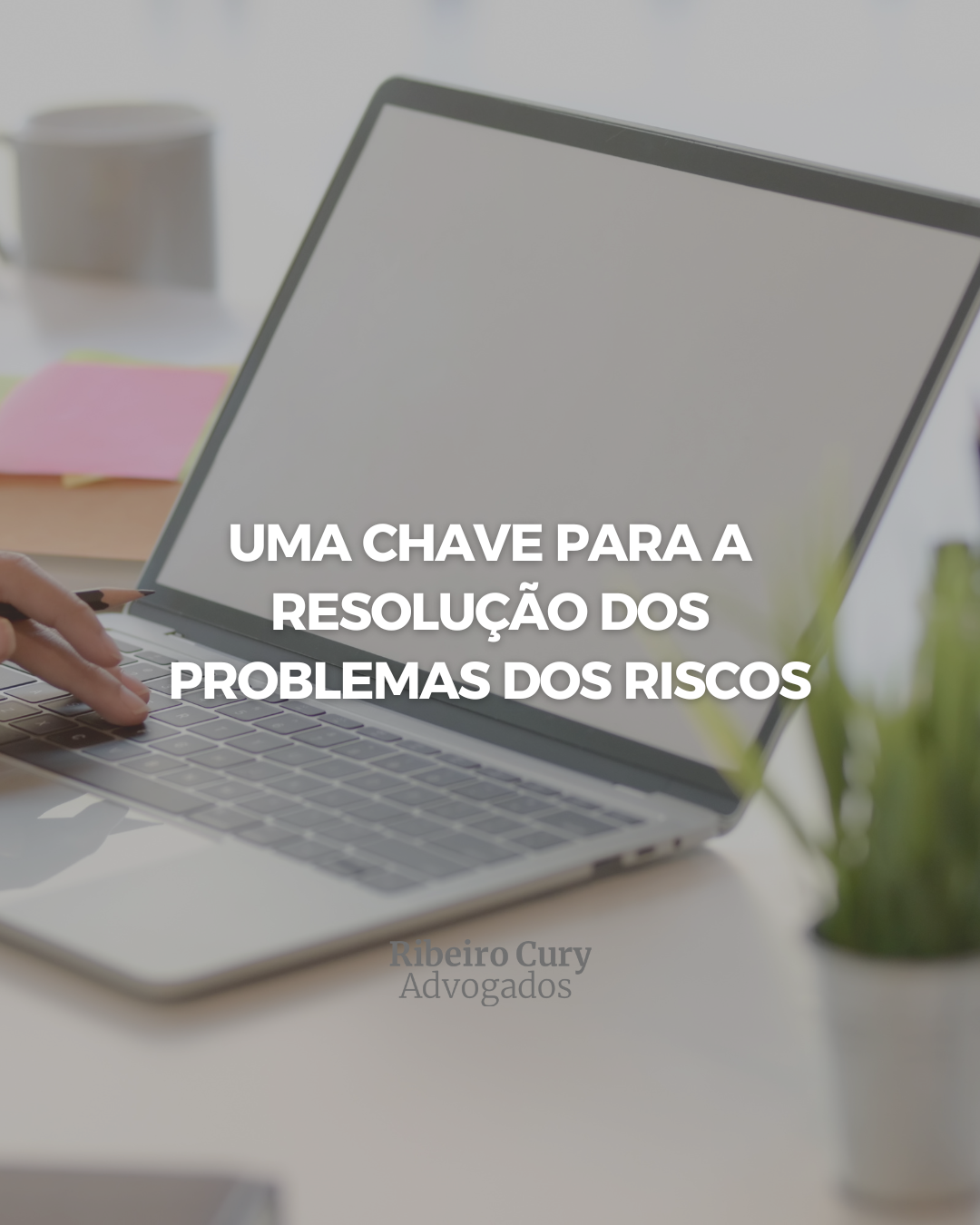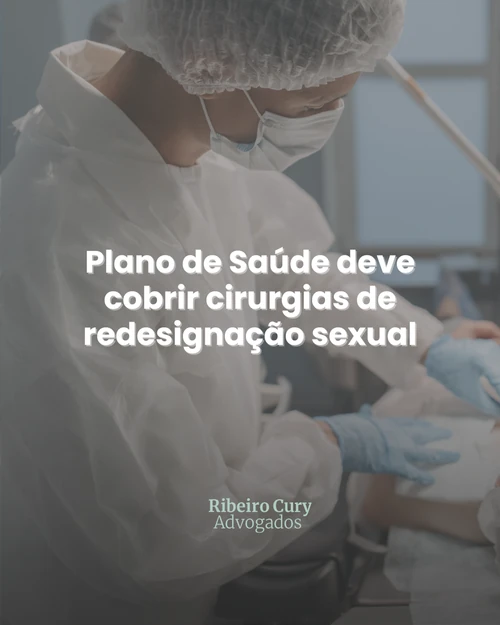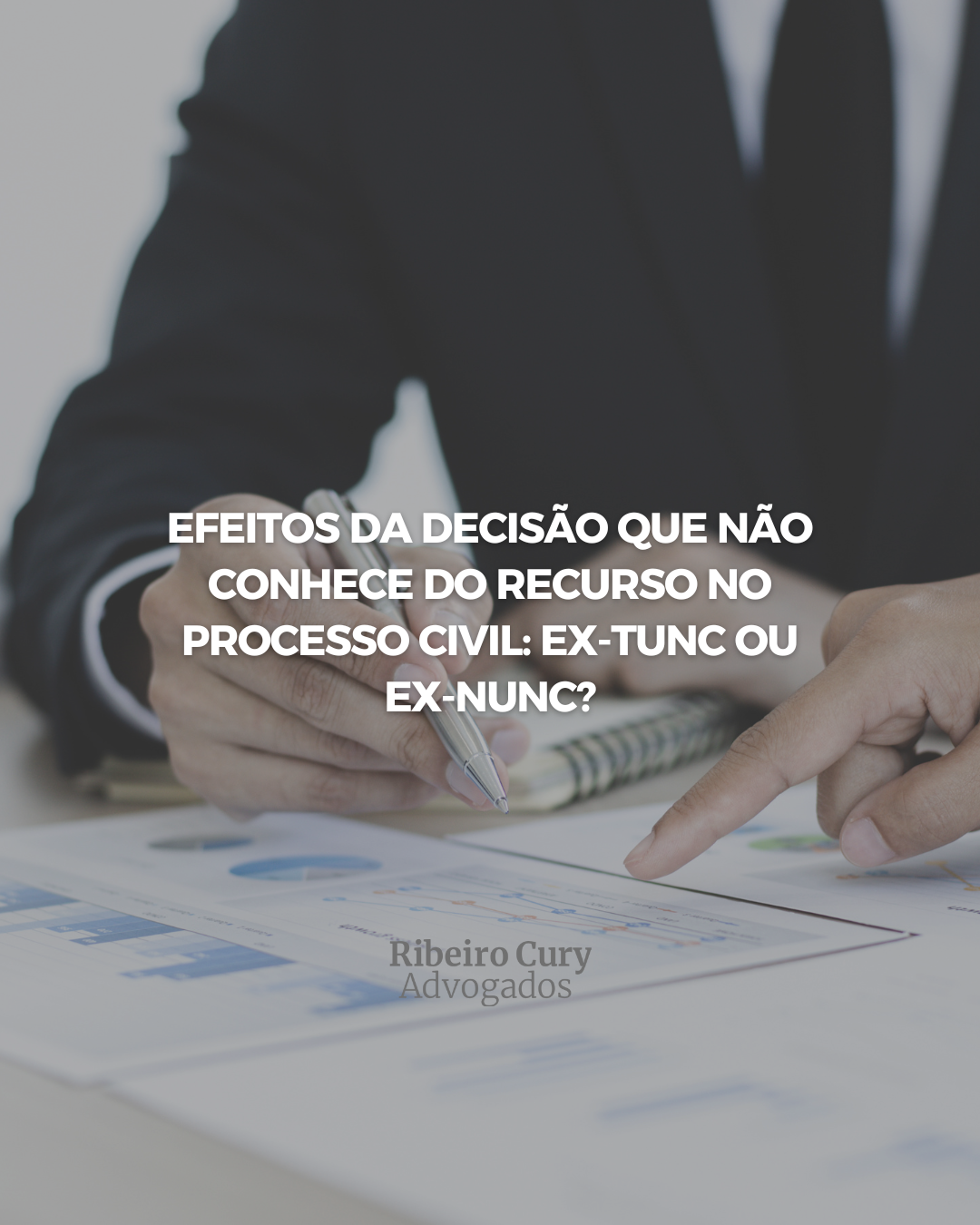O problema dos riscos talvez seja um dos mais complexos do direito privado, contendo soluções diametralmente opostas tanto no direito romano como nos atuais sistemas jurídicos derivados da chamada família romano-germânica, incluído o direito brasileiro.
Em termos gerais, o que a teoria dos riscos visa responder é se entre o momento da conclusão do contrato e da efetiva entrega da coisa, caso essa venha a se perder ou, mais precisamente, caso a prestação se torne impossível por fato não imputável ao vendedor, se este tem direito ao preço (contraprestação) apesar de não ter entregado a coisa; ou da perspectiva do comprador, dada a impossibilidade da prestação, se este mantém-se obrigado a pagar o preço ainda que não tenha recebido a coisa. Para responder a essa questão, a maioria da doutrina admite como válida a regra res perit domino.
Embora o Código Civil atual a exemplo do Código Civil Bevilaqua não possua um capítulo específico para o regramento para a problemática do risco da perda ou deterioração fortuita da coisa objeto da obrigação, o que se tem são regras genéricas presentes no direito das obrigações, a exemplo daquela previstas nos artigos 234, “primeira parte”[2]; 238[3], atinentes a obrigações dar e de restituir respectivamente.[4] além do regramento específico no art. 492[5] que diz respeito a tradição e o momento da transferência do risco no contrato de compra e venda.
A leitura dos dispositivos legais citados é clara em atribuir à “tradição” como o delimitador da transferência do risco, o que, partindo da noção de que a tradição do bem móvel, por qualquer de suas formas, transmite a propriedade à vista do disposto no art.1.267 do Código Civil[6] permitiria, a priori, concluir pela vigência da regra do res perit domino no direito brasileiro, como defende a maioria da doutrina.
É nesse contexto, ainda sob a vigência do Código Civil Bevilaqua, Jaime Tourinho Junqueira Aires[7] apresentou uma das primeiras tentativas, no contexto brasileiro, de construir um sistema sobre a teoria dos riscos para todos os contratos no direito brasileiro, e não apenas em consideração ao contrato de compra e venda como comumente se faz.
Para o professor da Faculdade Bahiana de Direito, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, seria válida no direito brasileiro a seguinte regra geral: “salvo se as partes dispusessem em sentido “ em havendo risco, e inexistindo culpa ou dolo, cada direito se perderia na proporção do dano para o seu respectivo titular”. De forma diversa à doutrina tradicional, o objeto da teoria do risco não seria a coisa (objeto mediato da obrigação) e sim o direito em sentido amplo (e aqui também as posições jurídicas subjetivas da pretensão, a ação e a exceção[8]).
O evento danoso não atinge apenas a coisa a qual a obrigação se refere (objeto mediato), mas apenas o direito em si, a exemplo da desapropriação em que a perda da coisa advém da perda do próprio direito em virtude de um fato do príncipe. Em outro exemplo, no contrato de compra e venda, existindo determinada situação de risco que resultasse na perda da coisa, o comprador perderia seu direito e pretensão de exigir a entrega da coisa, enquanto ao vendedor perderia, além do seu direito de propriedade em virtude da perda da coisa, o seu direito e pretensão de exigir o pagamento do preço (contraprestação).
A regra res perit domino seria insuficiente ao menos por dois motivos. Em primeiro lugar, se “dominus” se refere ao proprietário, como explicar que o usufrutuário , por exemplo, sofre um prejuízo em seu direito caso a coisa dada em usufruto pereça por fato não imputável seja ao usufrutuário ou ao titular da nua propriedade? Para Aires, se consideramos apenas o risco da coisa este significaria para o usufrutuário sua posição jurídica (titular de um direito real sobre coisa alheia), o que é evidente e nada responde com relação à teoria do risco, que se refere não à perda de um direito real, mas sim, a um problema de direito das obrigações que tem por objetivo responder quem assume o risco e por consequência se mantém obrigado a realizar sua prestação.
Em segundo lugar, sendo “res” uma coisa corpórea, a regra res perit domino seria insuficiente para abarcar todos os tipos de obrigações, pois ao lado das obrigações de dar e de restituir também estão as obrigações fazer e não fazer que também sofrem as questões relativas à teoria do risco. Ademais, até mesmo as obrigações da dar e de restituir também não se resumiriam à coisa em si pois também são um fazer, e nem a coisa se confunde com a relação jurídica obrigacional. Nas palavras de Aires “[…] nas relações obrigacionais, o que está em primeiro plano é a prestação e a contraprestação do devedor e do credor, e não a coisa e o direito real sobre ela”.
Para melhor compreensão do seu pensamento, examine-se o exemplo trazido pelo jurista baiano : um proprietário constitui um usufruto de um terreno com um imóvel em favor de um terceiro. Esse último , no gozo do seu direito real sobre coisa alheia, aluga o imóvel para um terceiro. Passado um tempo, um temporal de magnitude imprevisível alaga o imóvel, tornando-o imprestável. Quem deve suportar o risco? Segundo Aires, caso tentássemos aplicar a regra res perit domino ao caso, sendo o domínio do imóvel titularizado pelo nu- proprietário seria este quem deveria suportar os riscos do evento causador do prejuízo, o que obviamente seria uma consequência absurda, na medida em que este sequer figura na relação jurídica decorrente do contrato de locação.
Por sua vez, a regra segundo a qual o risco é do direito enquadrar-se -ia perfeitamente ao caso em exame: sendo o risco de cada direito pertencente ao seu titular, existindo o risco (o temporal e consequente alagamento) a perda da coisa levaria à extinção de todos os direitos relacionados a este. Em síntese, o usufrutuário locador perderia o direito de exigir o pagamento de aluguel, ao passo de que o locatário perderia o direito de usar a coisa. Quanto ao nu- proprietário, embora este continuasse a ter o domino do imóvel, evidentemente suportaria os prejuízos de sua desvalorização. O risco do nu- proprietário seria inerente a sua posição jurídica enquanto titular do direito de domínio, nada tendo a ver com a questão da relação jurídica da qual não é figurante.
O problema da utilização da regra res perit domino, portanto, na concepção de Aires seria o fato dessa não responde à questão principal a respeito sobre quem perde os direitos decorrentes da relação obrigacional o que seria o problema fundamental da teoria dos riscos no âmbito do Direito das Obrigações.
Não há dúvida que a proposta de Aires é inovadora. Apesar disso, apenas Orlando Gomes fez referência ao artigo em sua obra sobre Direito das Obrigações, apresentando uma crítica. Para Orlando Gomes a visão de Aires basearia em uma premissa falsa, não podendo o risco ser do direito pois “res” não poder ser compreendido como coisa não significa que deve ser entendida como prestação. Dessa forma, considerado o caso do temporal, a inundação atinge a coisa fazendo-a perecer, de modo que o risco-evento atingiria a coisa em si e não o direito sobre o ela.
Francisco Sabadin Medina entende que crítica de Orlando Gomes não seria justificável pois não adentraria profundamente na concepção de Aires. Em verdade, Aires não teria traduzido “res” por prestação, mas sim se restringido a criticar o entendimento correntes de “res” como coisa para justificar a insuficiência da regra res perit domino ante a existência de outras obrigações não ligadas à coisa, tal qual as obrigações de fazer e de não fazer.
Ao nosso ver o mérito da doutrina de Aires, além do ineditismo e profunda criatividade, ao colocar o problema dos riscos sobre os direitos envolvidos, além de restringir, o problema dos riscos aos direitos das obrigações e ao destino da prestação e da contraprestação ante um evento de risco que torne a obrigação impossível. Pela forma original de pensar o complexo problema da teoria dos riscos, merece nossas reverências.
Por Yuri Pimenta Caon
REFERÊNCIAS:
[1] O presente texto fora feito considerando o artigo de Jaime Tourinho Aires ( ou Ayres) publicado na Revista da Faculdade de Direito da Bahia ( RF 38, volume 86 ( 1941)), intitulado “ Uma chave para a teoria dos riscos oriundos do acasos nos contratos civis”. Ainda sobre considerações sobre o referido artigo e o pensamento de Aires a respeito da teoria dos riscos vide MEDINA, Francisco Sabadin. Compre e Venda de Coisa Incerta no Direito Civil Brasileiro. Uma análise do Vendedor no Código Civil de 2002. Tomo II. Editora Lumen Iuris, 2021.
[2] 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos.
[3] 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda.
[4] A respeito da obrigação de dar e de restituir e o risco quanto à perda ou deterioração fortuita da coisa, Silvio Rodrigues é didático ao apresentar a essência do problema com os seguintes questionamentos: […] assim, três os termos do problema: obrigação de dar ou restituir, perda ou deterioração da coisa, ocorrida antes da tradição. Afasta-se, desde logo, a hipótese de culpa do devedor, pois neste caso, seu inadimplemento a sujeita à regra geral do descumprimento culposo, fazendo-o responsável pelas perdas e danos ocasionados (CC, art. 389). Mas o problema continua fascinantes e poder-se-ia propor nos seguintes termos: perdida ou estragada a coisa a ser entregue ou restituída, quem experimento o prejuízo? O devedor ou o credor? Por exemplo, vendida certa partida de papel e pago o preço, aquela se inutilizo em razão de inesperada inundação, que avassalou os depósitos do vendedor. Quem suporta o prejuízo, o vendedor não teve culpa pelo acontecido e que já se encontra na posse do preço? Ou o comprador, que já pagou preço e que apenas não recebeu a mercadoria porque um evento de força maior, um act of God, destruiu a coisa objeto da prestação? (Direito Civil. Parte Geral das Obrigações, São Paulo, Saraiva, p. 24).
[5] Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador. § 1 o Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. § 2 o Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados.
[6] Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.
Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.
[7] Nascido em 20 de setembro de 1901 em Salvador na Bahia e falecido no Rio de Janeiro em 1973, Jaime Tourinho Aires foi um relevante advogado, jornalista, político e professor na Faculdade de Direito da Bahia. Um dos seus últimos trabalhos na área de Direito foi uma conferêncoa realizada em 1972 no Tribunal Regional do Trabalho a respeito da influência do Direito Civil no Direito do Trabalho. ( Dicionário Bibliográfico da Bahia. Disponível em http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/2024/08/14/jaime-junqueira-ayres/. Acesso em 01º out 2025.
[8] Para maiores considerações a respeito da diferenciação entre direito, pretensão, ação e exceção e sus correlacionados dever, obrigação, posição de acionado e posição de exceptuado, vide Marcos Bernardes de Mello. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 22 ed. São Paulo, Saraiva, 2022.