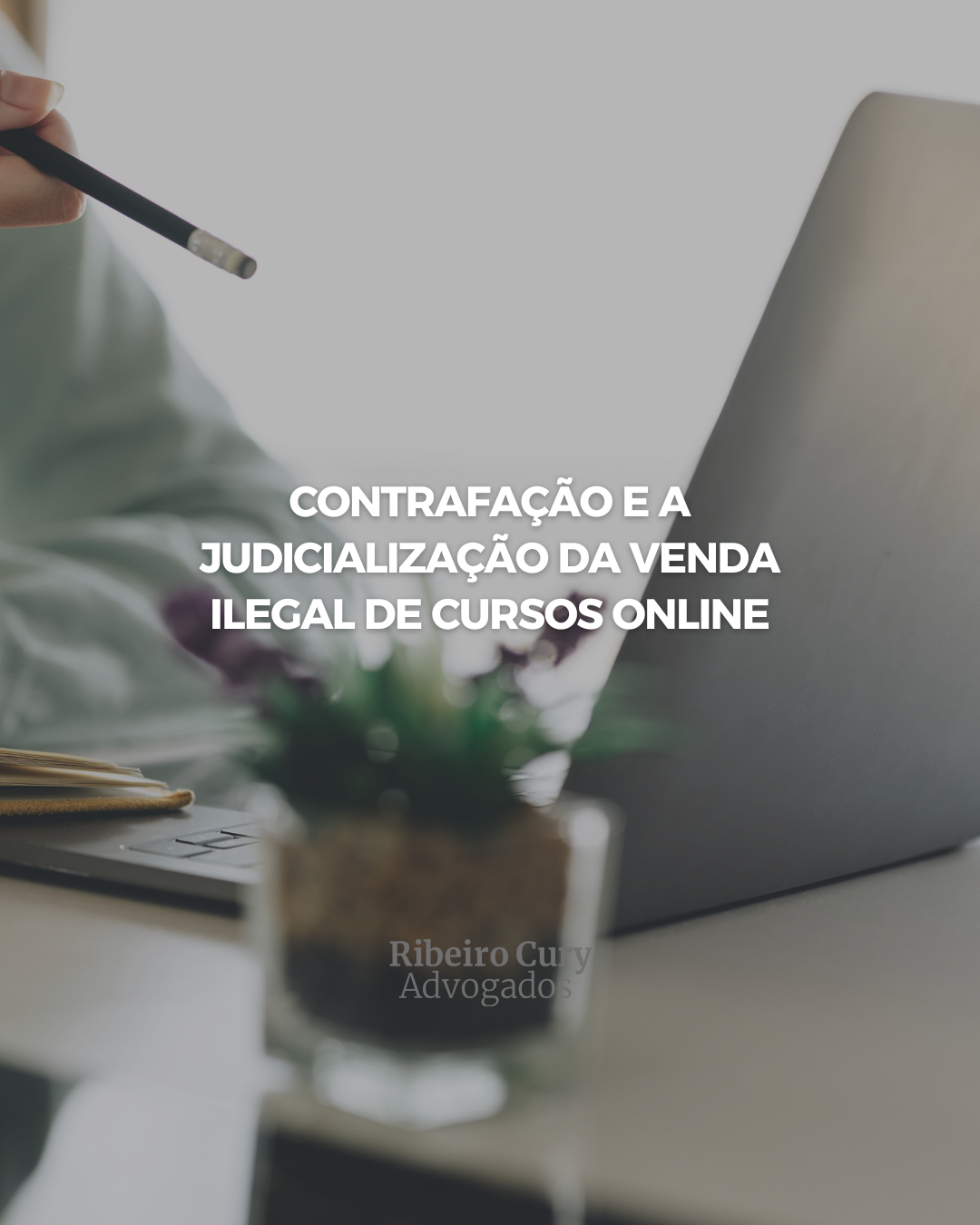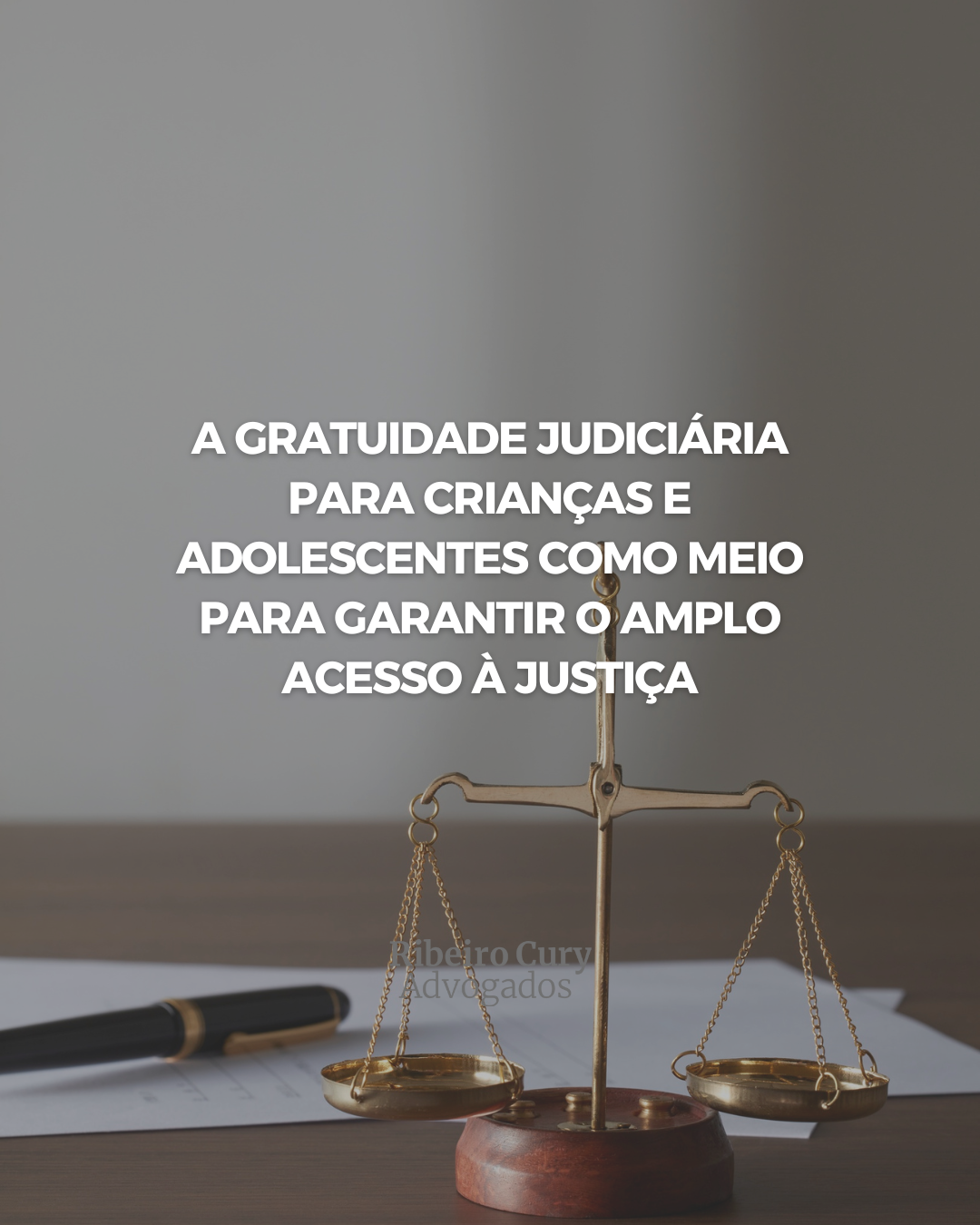A chamada fraude à lei (fraus legis), embora seja uma figura jurídica de suma importância, infelizmente é pouco compreendida, seja pela doutrina ou pela jurisprudência, sendo muitas vezes confundida com outras categorias jurídicas, como a simulação, que, embora tenha pontos de contato, possui suporte fático diverso..
Em linhas gerais, entende-se por fraude à lei a violação indireta de normas jurídicas, seja para realizar o resultado que a norma cogente impede ou evitar o resultado que esta impõe[1].
O primeiro questionamento que surge é a respeito da necessidade de intencionalidade ou não para a configuração da fraude, não sendo um tema pacífico. Segundo grande parte da doutrina, com base no valor semântico da expressão fraude, a configuração da fraude à lei demanda intencionalidade do agente. Esse entendimento encontra abrigo também à luz do disposto no art. 166, inciso VI, do Código Civil, o qual dispõe que é nulo o negócio jurídico que tenha o “objetivo de fraudar a lei imperativa”.
A despeito da literalidade do enunciado, entendemos que a regra deve ser interpretada de forma sistemática, o que leva à conclusão de que o elemento intencionalidade, embora possa estar presente, não configura elemento necessário para a caracterização da violação indireta à norma jurídica. A exceção somente ocorreria se a própria norma trouxesse em seu suporte fático o elemento de intencionalidade. A respeito, a seguinte a lição de MARCOS BERNARDES DE MELLO:
[…] Não há dúvida que a intenção de violar a lei aparentando licitude está presente, em geral nos atos de infração indireta à lei. Não, porém, com caráter de necessidade. A boa ciência tem demonstrado que a intencionalidade constitui circunstância de todo irrelevante quando se trata de caracterizar a infração indireta da norma jurídica, salvo se a própria norma jurídica a tem como elemento do suporte fático […][2]
Para Marcos Bernardes de Mello, por se tratar de um modo de infringir a norma jurídica, é irrelevante se tal infração foi intencional, de má-fé, fraudulenta ou se foi inocente, ou ainda se o figurante sabia ou não da proibição ou imposição. E isso se deve ao fato de que não é possível ao cidadão alegar ignorância quanto ao cumprimento da lei, conforme preconiza a regra do art. 3º da LINDB. Pela mesma razão, também não poderia um figurante do negócio jurídico alegar desconhecimento a respeito da imposição ou vedação da norma cogente.
Além disso, considerando que a incidência da norma é infalível, o que pode falhar é sua eventual aplicação.
Além disso, considerando que a incidência da norma é infalível, o que pode falhar é sua eventual aplicação [3]. Não é por outra razão que, para a consecução da fraude à lei, sejam utilizados meios que visam atrapalhar a aplicação da lei, burlando a incidência da norma jurídica e induzindo o intérprete a considerar que outra norma foi a incidente, quando, na realidade, a norma violada deveria ter incidido. O que importa para se considerar a fraude à lei é se foi realizado ato vedado pela lei ou se foi impedido o resultado que ela impõe.
De forma genérica, a fraude à lei é perpetrada de forma a aparentar licitude. A título de exemplo, o art. 496 do Código Civil veda a alienação de bens de ascendente a descendente sem a autorização dos demais herdeiros e do cônjuge (salvo se o regime de bens for o da separação de bens). Para fraudar a proibição, normalmente o fraudador se vale de interposta pessoa, vendendo o bem a terceiro para que este, por sua vez, o aliene ao descendente.
E aqui é preciso chamar atenção para o seguinte ponto: o exame de cada ato em si não permite vislumbrar a fraude à lei. A venda do bem a terceiro, vista de modo isolado, é válida e eficaz. Igual resultado temos se analisarmos apenas a venda do terceiro ao filho. Apenas com o exame da consecução dos atos em cadeia é suficiente para concluir pela ocorrência da fraude à lei e consequente nulidade da venda. [4]
Outro exemplo é a violação à proibição do pacto comissório. Conforme dispõe o art. 1.428 do Código Civil, “é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.” Para burlar a proibição legal que acarretaria a nulidade de eventual cláusula, é comum o credor exigir procuração do vendedor, em causa própria ou outorgada a terceiro de sua confiança, contendo poderes para transmitir para si ou para outrem o bem, caso a dívida não seja paga no vencimento.
A fraude à lei também não se confunde com figuras a ela assemelhadas, como fraude contra credores e simulação. Em relação à fraude contra credores, esta se caracteriza pela alienação gratuita ou onerosa que leve o alienante a uma situação de insolvência que o impeça de cumprir suas obrigações. A violação aqui é ao direito de crédito de terceiro. Diferentemente, a fraude à lei diz respeito à violação da norma jurídica, pouco importando se eventualmente algum direito subjetivo de terceiro possa ter sido lesado.
Quanto à simulação, a fraude à lei se distingue do ato in fraudem legis, pois, na simulação, os atos não são verdadeiros, isto é, os figurantes celebram negócio jurídico falso (negócio jurídico simulado) para encobrir sua real intenção (negócio jurídico dissimulado). Diferentemente, na fraude à lei, os atos são verdadeiros e seus resultados realmente queridos, embora se tenha por objetivo fraudar a lei.
Apesar da clara distinção entre simulação e fraude à lei, atualmente perde importância sua análise na prática, haja vista que, diferentemente do sistema do Código Civil de 1916, tanto a fraude à lei quanto a simulação acarretam a nulidade do negócio jurídico, à vista do disposto nos artigos 166 e 167 do Código Civil.
Por Yuri Pimenta Caon.
REFERÊNCIAS:
[1] MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Invalidade São Paulo: Saraiva, p. 110.
[2] MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Invalidade São Paulo: Saraiva, p. 110.
[3] PONTES DE MIRANDA. Francisco C. Tratado de Direito Privado. Tomo I, § 4. Item 4. Para o jurista alagoano “ a incidência das regras jurídicas não falha: o que falha é o atendimento a ela. Se se escreve, por exemplo, se ‘há infração da regra jurídica a incidência da regra falha em realidade’ está-se a falar em acontecimento no plano do atendimento ( aí dito da realidade), com os olhos fitos no plano da incidência, que é do mundo jurídico, o mundo do pensamento.
[4][4] Segundo Marcos Bernardes de Mello, “ o ato in fraudem legis tem de ser tratado como um só ato, porque é, na verdade, conceitualmente unitário. Os diversos atos que são praticados para alcançar o fim proibido ou evitar o resultado imposto têm uma única e mesma finalidade. Devem, portanto, ser considerados unitariamente, jamais isoladamente” ( Teoria do Fato Jurídico. Plano da Invalidade São Paulo: Saraiva, p. 113).